[Paulicéia 079] Marçal Aquino: "No juízo final, quero estar na fila dos escritores"
O escritor fala sobre as mudanças da cidade que escolheu como lar e sobre a presença de São Paulo na sua criação literária.
Alô, Paulicéiers 👉 Essa é a última entrevista publicada pelo Paulicéia. Daqui até a última edição, em 24/06, teremos resgate de algumas entrevistas publicadas nesse um ano, além de edições abertas do conteúdo exclusivo para apoiadores, o Guia Paulicéia, que passará a fazer parte da newsletter Tá Todo Mundo Tentando a partir de 01/07. Fale comigo por aqui — é só responder esse email!
É difícil, numa cidade da amplitude geográfica e cultural de São Paulo, tentar falar sobre uma pessoa ou obra que defina a cidade. Em se tratando de literatura, temos de Caio Fernando Abreu a Ferréz, de Marcos Rey a Clara Averbuck — diferentes vozes e origens que fizeram de São Paulo cenário para suas histórias. E temos Marçal Aquino. O escritor, que veio do interior paulista e há quarenta anos mora na Vila Mariana, diz que não escolhe usar as ruas da cidade como cenário para histórias como "O Invasor".. Mas acontece naturalmente: "São Paulo está sempre presente naquilo que eu escrevo, não tem como, é a cidade que escolhi pra viver."
Durante a pandemia, Marçal precisou deixar de lado a inspiração das ruas da cidade e encontrar outra forma de escrever. "De repente, eis a chance de ser escritor de novo, como fui no passado! Só uma vez na minha vida lembro de ter tido tanto tempo pra falar: sou um escritor. Levanto de manhã e a primeira coisa que vou fazer é escrever." Funcionou: foi durante a pandemia, em que ele escreveu e publicou "Baixo Esplendor" (Companhia das Letras, 2021), seu livro mais recente, passado em 1973 numa cidade tirada da memória e da imaginação.
Memória, a prática da literatura, a cidade, a pandemia e o que será depois são os temas da conversa de hoje. A entrevista é mais longa que o normal, mas não deixe que isso te impeça de chegar até o final do email. Essa é a última. Guarde com carinho e volte sempre que quiser.

Pandemia
“Em janeiro de 2020 eu estava na Espanha, não havia registro de nada, só uma conversa de um negócio que estava acontecendo na China. E no Carnaval de 2020 eu fui para Mendoza, na Argentina. Voltamos em março, pelo aeroporto do Chile, e aí todo mundo estava de máscara. E ficamos apavorados, porque não tinha onde comprar máscara, nenhuma farmácia tinha. Entramos no voo com muito medo, mas ainda achando que no Brasil ainda não tinha chegado. Na semana seguinte eu tinha que ir ao Rio e já não fui.
“Tomei essa decisão no começo de 2020, quando a gente viu como a coisa se desenhou: resolvi me resguardar pra valer. Não vou a festas, não vou a bares. Totalmente fechado. Só fiz uma extravagância: mês passado fui pra Argentina. E tive pontuais eventos nesse meio tempo, fui a um jantar de trabalho, com quatro pessoas, e recebi alguns amigos aqui na minha casa. Fora isso, não saio.
“Para você ter ideia da radicalidade do negócio, tenho uma cachorra e ela gosta de passear. Eu saio com ela todos os dias quando tô em São Paulo. E aí o meu vizinho, que é um anjo, sai com o cachorro dele também, e saiu com a minha durante muitos meses, porque eu realmente não punha o pé na rua. É literal.
“Eu pensei: devo ter uns quatro mil filmes em DVD, filmes que amo rever, posso ficar sentado em cima disso, fazer algo, já que não vou poder sair. A TV tinha parado, eu tinha acabado de passar um projeto e estava esperando uma análise e vi que tinha tempo aqui de casa. E estava tocando um livro, assim, muito lentamente, muito tranquilo, pensando em lançar em 2022. E aí, de repente, eis a chance de ser escritor de novo, como eu fui no passado! Só uma vez na minha vida lembro de ter tido tanto tempo pra falar: sou um escritor. Levanto de manhã e a primeira coisa que vou fazer é escrever.
Baixo Esplendor
“Eu poderia ter ficado vendo filme, lendo — imagina, tenho um atraso, um déficit de leitura de décadas, preciso de outra encarnação pra dar tempo de ler. Poderia ficar lendo, fico muito bem sozinho, até porque, para mim, a literatura impõe essa solidão. Então, fiquei feliz de estar sozinho também, não tenho nenhum problema de ficar sozinho, não fico deprimido, nada disso. Só lamentava que perdi a rua. E isso, de certa maneira, acabou resvalando no livro. Porque eu estava escrevendo desde o ano anterior, 2019, e vinha vindo assim num ritmo tranquilo, eu não tinha ainda muita ideia do que era o livro, ele estava se mostrando muito lentamente. A principal coisa que percebi foi que não tinha nenhum signo, naquilo que já tava escrito, de modernidade. Não tinha internet, ninguém usava celular. A história veio dessa maneira. Eu sabia que era 1973, por uma série de razões, a partir daí me coube apenas o trabalho de recuperar essa rua de 73. Que eu recupero da memória, porque eu a vivi: em 1973 eu tinha 15 anos.
“E aí peguei o romance, o adiantei em um ano e meio. Peguei o ritmo, ensandeci com o livro. No meu caso, quando você se coloca inteiramente à disposição de um livro, ele baixa, parece que faz um download. Baixa de uma forma alucinada. Aconteceu comigo e não deu outra, escrevi em três períodos, manhã, à tarde e noite, tocando o livro em grande velocidade, porque eu escrevo sem saber o que estou escrevendo. Não tenho uma prévia, uma escaleta, nada disso, eu me lanço na escuridão, quero que aquilo se conte para mim. E, havendo tempo, se contava durante o dia e durante a noite, houve uma ocasião que me levantei às três da manhã para escrever, porque a ideia fica martelando na sua cabeça. Minha experiência diz isso: se você não levanta e anota, não guarda. Então levantei, fiz café e escrevi até às 6h da manhã, me lembro que tava um frio danado e fiquei feliz escrevendo, me senti escritor de novo — embora tivesse perdido a rua, tão essencial naquilo que escrevo, sou muito estimulado pela rua.
“O "Baixo Esplendor" é dentro de São Paulo, mas é um cenário imaginário. As ruas não existem, os lugares não existem, isso tudo está dentro dessa coisa de liberdade que eu falo. Não vou pôr o Bar do João que existia naquela época, esse tipo de pesquisa não me interessa. É memória pura. Memória e imaginação.
“Acho que é um pouco aquilo que o Faulkner fala sobre escrever, que é observação, imaginação e experiência. Eu acho que essas coisas têm pesos diferentes de acordo com a circunstância daquilo que você escreve. Às vezes, por você estar fazendo uma coisa de época, pode acontecer de precisar saber "será que já tinha telex na época?" Hoje em dia resolve com o Google, mas antigamente tinha que fazer um caderno de pesquisa. Teve um livro que eu tive que fazer uma pesquisa muito longa e demorada na Biblioteca Mário de Andrade com jornais da época. Mas eu não gosto de fazer pesquisa tão profundamente, porque acho que escraviza a ficção.
E a ficção é livre. Quando o García-Márquez diz que o sujeito entrou na sala e o sujeito tinha asas, existe uma suspensão da incredulidade que só a literatura pode dar. O cinema te mostra hoje um ovo se transformando num dragão, é maravilhoso, só que não é assim na literatura. Na literatura você tem que contar com a imaginação do leitor. Tudo que eu preciso do leitor é imaginação dele. Um leitor sem imaginação não me serve.
“Não é um livro que está apoiado em pesquisa, embora tenha uma coisa curiosa: quando já estava escrevendo, estava fazendo uma pesquisa de presídios femininos e estava sendo auxiliado por uma pesquisadora. E um dia estávamos almoçando e ela perguntou: você está escrevendo um livro? Do que trata? E eu contei pra ela o que eu sabia até ali, que era um agente infiltrado. E ela perguntou se eu já tinha conversado com um agente infiltrado. Eu falei que não. Você não vai pesquisar? Eu falei que não, que já sei que agente infiltrado não gosta de falar, o meu irmão foi do Reservado da PM, eu sei o que é isso, ele não comentava nada, nunca, era uma esfinge. Daí ela falou que tinha um amigo que falaria comigo. Almocei uma vez com esse agente que trabalha infiltrado e ele me contou peripécias que acabaram me dando estímulo de pensar: poxa, estou certo quanto ao meu personagem. O que aquele agente me revelou naquela tarde era o que o meu agente estava fazendo. Então eu fiquei feliz, porque minha imaginação estava me levando pra um lugar, onde, do ponto de vista da verossimilhança, estava tudo ok. O personagem já existia. Eu vejo quando vou escrever, vejo como está vestido, etc. Essa clareza eu tenho, não tem perigo de uma invasão nesse aspecto. Pontualmente falando foi legal, porque me apontou na direção de um personagem sem nenhum glamour em um trabalho arriscado — se bem que, no Brasil, viver é arriscado…
Ser escritor
“Sempre me senti escritor. No juízo final, quero estar na fila dos escritores. Fui uma série de coisas na vida: roteirista, redator de publicidade, jornalista, repórter, revisor, mas eu me vejo como escritor. Acontece o seguinte: nunca considerei a literatura um ganha-pão. Sempre fiz literatura sem nenhuma predição financeira, nunca acreditei que ia ganhar dinheiro com literatura. Quando decidi ser escritor, aos 15 anos, eu entendi que o negócio é assim: posso ser escritor e escrever o que eu quiser, mas vou arrumar uma profissão. Então, virei jornalista. Me formei em jornalismo na PUC de Campinas, no começo dos anos 80. Nunca me interessei por nenhuma mídia que não fosse jornal impresso, gostava de escrever, minha carreira é toda construída na mídia impressa. Trabalhei na Gazeta Esportiva, no Estadão e no Jornal da Tarde — mas saí em 90 e nunca mais voltei pra jornal, fui mudando de profissão.
“Sempre gostei dessa escolha, ela nunca me trouxe angústia. Muito pelo contrário: acabei ganhando dinheiro com literatura! Vendi direitos para cinema, tenho um livro juvenil que ultrapassou a casa de um milhão de exemplares vendidos. Mas não era esse o projeto. O projeto era ter uma profissão que me tirasse a angústia de ter que vender e ter que fazer sucesso. Eu escreveria por prazer e quando eu quisesse.
“De todas as formas de escrita que experimentei na vida, a mais livre é a literatura. Não ia negociar isso nunca. Eu escrevo com liberdade, senão não faz sentido escrever.
“Hoje em dia, sou roteirista, vivo como roteirista. O roteiro é uma forma deliciosa de contar histórias, é um desafio fazer isso todos os dias sabendo que você está falando com um público grande. Mas é uma forma, existe uma técnica. A literatura, não. Você faz como você acha que deve fazer, como te satisfaz. Quando eu estava no Jornal da Tarde, me lembro de um período que eu trabalhava só à noite e tinha o dia livre, e me sentia escritor. Ia ao cinema me sentindo escritor, entrava numa livraria me sentindo escritor. Nunca abandonei esse compromisso.
Memória de São Paulo
“Moro na Vila Mariana. Fiz faculdade em Campinas e vim para São Paulo para trabalhar no Estadão. Moro nessa casa há dez anos, mas desde que vim para São Paulo, com 25 anos, sempre morei na Vila Mariana. 40 anos morando em uns seis ou sete lugares diferentes na Vila Mariana. Eu conheci uma São Paulo, como repórter policial, que comparada com hoje era até romântica. Eu tinha uma agenda com nomes de bandidos e quando eu precisava de informação recorria a esses caras. Tava muito próximo do submundo e isso acabou contaminando a minha literatura. As coisas foram mudando, acho que um ponto de inflexão é o Carandiru, a partir daí surge o PCC. E é uma história que conheço de cor porque escrevi sempre muito perto disso.
“Para você ter uma ideia, em 1997 eu estava muito na rua e estava com uma percepção de que a cidade estava muito hostil, muito violenta, as trocas entre as pessoas eram muito violentas — e não era nada perto do que é hoje. A realidade nunca esteve tão crua nesta cidade de São Paulo.
“Isso me inspirou a escrever "O Invasor", que era um olhar para uma cidade brutal de verdade, mas nada comparado com hoje. O que eu vejo nos jornais, nos telejornais da TV, é apavorante. Acho que se perdeu muito a capacidade de ler o outro, esses meninos que estão assaltando para roubar celular, uma coisa que é presente na vida de qualquer cidadão aqui de São Paulo, isso mudou tudo. Nunca vi nada tão brutal como agora, com a diferença de que eu tenho saído muito pouco e acabo me expondo muito pouco. Não vivo na paranóia, não gosto da ideia de morar num lugar onde eu tenha medo, mas esse é um momento que atribuo a circunstâncias muito particulares impostas pela pandemia, essa miséria que engrossou. São Paulo tem um cardápio de mazelas, tem a Cracolândia, e não se sabe como lidar com ela, parece esperar que ela se solucione sozinha, não é possível isso. Não vão morrer todos os usuários, que é o que parece que as autoridades estão esperando quando ficam mexendo essa gente de um lugar para outro.
Drama criminal
Eu diria que o que vai marcar o que escrevo é o drama criminal. Eu não tenho essa figura do detetive clássico, geralmente nos meus livros não existe um mistério, quem matou, isso não é interessante pra mim. Mata-se na primeira linha e mostra-se as consequências disso, se é o caso. Mas isso eu só percebi à distância, acho que quando me vi no Paraguai com o Beto Brant, que queria filmar um conto do meu segundo livro, que é o filme "Os Matadores". Nesse momento foi que falei: mas que mundo violento. E aí que fui olhar meu livro, o "Miss Danúbio", com calma e eu vi que tinha muita situação que tinha vindo comigo da experiência jornalística. Já estava fora do jornal, eu saí em 90 e esse livro é de 94. É um livro com dramas criminais, uma coisa que vai marcar porque logo em seguida escrevo "O Invasor"— aí sim, uma história policial clássica.
A década mais importante na minha vida é a de 70. Eu entrei com 12 anos e saí com 22. É quando você se forma em tudo: leitor, escritor, ser humano. Suas principais fontes de interesse vão surgir nesse momento, não tenho dúvida disso. Todas as experiências importantes vão acontecer nesse arco dos 12 ao 22 anos, e pra mim isso aconteceu na década de 1970. O que eu estava lendo? Contos. O gênero que predominou na década de 70, aqui no Brasil com uma força descomunal, foi o conto. Foi a época dos grandes contistas, onde o Rubem Fonseca consolidou a obra dele, o Sérgio Sant'Anna lança o principal da obra dele, assim como Luiz Vilela, Dalton Trevisan, Domingos Pelegrini, os escritores da década de 70. Eu cresci lendo contos. Quando eu comecei a escrever, automaticamente os meus primeiros textos foram contos. E aí, quando chega a década de 80 eu tenho um livro pronto! E o que aconteceu foi que essa década virou a chave, ninguém queria ouvir falar mais de conto. Por ser anticomercial. Vários editores me dizem que o conto vende menos, ainda hoje. Às vezes a editora tem um grande contista no seu time de escritores porque ele vende os romances, mas os contos não vão tão bem comercialmente. Mas não é que eu queria escrever conto, eu só sabia escrever conto.
"As Fomes de Setembro" só foi publicado em 1990. Ele ganhou um prêmio importante na época, a Bienal Nestlé de Literatura, e foi publicado. É o começo da minha literatura adulta. E aí eu fico mais quatro anos escrevendo o segundo livro, "Miss Danúbio". De novo, teimei com os contos, ninguém queria saber, saiu por editora pequena que logo depois fechou, comprovando que não deveria publicar contos mesmo. E eu continuei firme no conto, fui mudar a chave em 1997, quando escrevi uma novela, "O Invasor", porque aquela história é maior do que um conto, entendi ela de saída. É uma novela curta, eu acho que ela tem pouco mais de 100 páginas, uma história sucinta. E aí eu faço um livro mais caudaloso que é o "Eu Receberia As Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios", mas aí já é uma outra coisa, eu já tinha me bandeado pro romance, tinha feito um outro policial chamado "Cabeça a Prêmio", que foi quase um acidente, escrevi em 56 dias, baixou um santo, consegui sentar e botei a história no papel.
Mas gosto de um bom conto, acabou de relançar um livro de contos, o "Faroestes". Esse livro tem uma história muito particular, lancei em 2001 numa brincadeira editorial com o (escritor e editor) Joca Reiners Terron. Ele tinha uma editora chamada Ciência do Acidente, que fazia uns livros bonitos e provocativos, e eu resolvi fazer um livro com ele. O "Faroestes" da primeira edição é um pouco fora do mercado, e tá chegando no mercado agora, mas tem uma certa fama, pouca gente leu porque a tiragem foi pequena. A gente não botou o livro em livrarias, resolvemos fazer os lançamentos em várias cidades, era uma farra que resolvemos fazer e foi muito lindo, acabou virando um objeto meio de arte, é um livro bonito, tem uma placa na capa toda estourada de balas. Então, relançar um livro de contos agora é uma declaração de fé no gênero. Sou um grande leitor de contos.
Cidade literária
O Marcos Rey foi um excelente contista sobre São Paulo. Pouca gente conhece a literatura adulta dele. Tem gente que nem sabe que ele escreveu livros adultos, que assistiu na TV minisséries inspiradas na obra dele, mas o Marcos tem um livro chamado "Malditos Paulistas", que eu adoro, e tem uma novelinha que dá um baita filme, chamada "O Último Mamífero do Martinelli". É fantástico, meu amigo querido, um sujeito fabuloso, um grande escritor. Eu gosto dele porque a gente tinha uma ligação muito forte com a literatura norte americana, ele gostava muito da literatura do pós-guerra, então a gente sentava pra conversar sobre Hemingway, Faulkner, ele gostava dos policiais. Há outros. O Cadão Volpato dedica textos a São Paulo, também, tem um olhar muito paulistano. O Fernando Bonassi tem um livro especificamente, são aqueles minicontos que ele publicava na Folha. E o Ferréz, né? "O Invasor" é super São Paulo. Eu já abortei uma novela que falava de São Paulo, dava nome de rua e tudo, que acabou não indo em frente. Mas São Paulo está sempre presente naquilo que eu escrevo, não tem como, é a cidade que escolhi pra viver.
“Ser paulistano, acho, é estar preparado para o ruído. Quando eu digo ruído, digo o ruído da cidade, me refiro à música feita na cidade, à via da rua, o estádio de futebol, principalmente do Pacaembu, que pra mim é simbólico, e a rua em si, o metrô — embora o metrô, lamento dizer, perdeu a fala.
“Eu gostava muito de andar no metrô para ouvir diálogos, acho que é onde a gente aprende a escrever diálogos, e o metrô eu tinha muito essa coisa de ouvir conversas que a tecnologia tirou da nossa vida. Hoje no metrô se fala muito pouco. Eu já achava o fone de ouvido um escândalo, ouvindo música, mas hoje o telefone é uma coisa impressionante. Então o ruído é a rua. Andar por dentro de uma feira livre é uma experiência. Quando digo ruído, me refiro ao conjunto de som produzido segundo a segundo nessa metrópole. Digo que aqui até o silêncio é barulhento, porque eu moro numa rua muito tranquila, mas aqui ouço a cidade. Acho que o que define São Paulo, e o que define ser paulistano, é isso: é estar atento a todos os ruídos da cidade. São Paulo faz uma música única no Brasil, podem falar o que quiser, sobre ser túmulo do samba, é a cidade que consegue uma proeza que é retratar esse mosaico que ela é. O lugar onde isso mais aparece, pra mim, é na música. É onde você encontra um pouco de tudo, os artistas que vêm de fora têm que passar por aqui antes de se oferecer de maneira nacional, isso é histórico, pode olhar que é um acontecimento. Quando pego hoje que tá fazendo o Kiko Dinucci e a Juçara Marçal, outro dia tava conversando com o Paulo Lins, que é super carioca, e falei: isso é o som de São Paulo. Ele não tinha ouvido a Juçara ainda e ficou fascinado. Então esse ruído para mim é a cidade.
No guia Paulicéia 👉 11 coisas para fazer em SP no fim-de-semana.







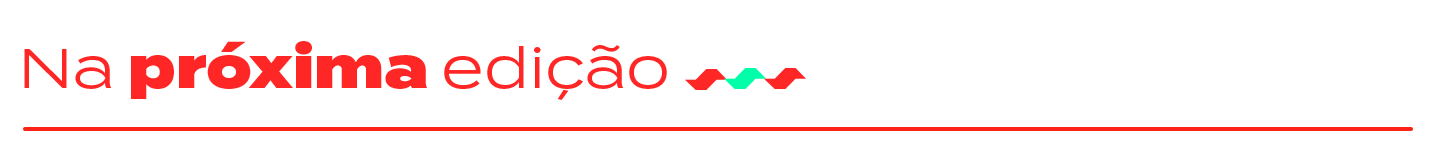
Maravilhosa edição, pura magia. Obrigada pelo Pauliceia, Gaía! Vai fazer falta ❤️