[Paulicéia 035] Rafael Vilela: "A pandemia é a maior pauta das nossas vidas"
O fotojornalista fala sobre seus registros dos muitos impactos da pandemia em São Paulo.
A conversa de hoje é com o fotógrafo Rafael Vilela, autor de algumas das imagens mais impactantes da pandemia em São Paulo que o mundo viu, como as “cidades de barracas”, as Presidentas de Paraisópolis, os coveiros da Vila Formosa, a luta dos entregadores e das populações indígenas para veículos como National Geographic1 e Washington Post2. No papo dessa semana, que será publicado em duas partes (hoje e quarta-feira), Vilela conta como foi estar nas ruas da cidade nos piores momentos da pandemia, e o que ele acha que virá depois. Mas antes, um recado:
Importante 👉 A partir dessa semana, as edições de quarta e sexta-feira, com desdobramentos do assunto da semana e dicas do roteiro cultural de São Paulo, são exclusivas de quem apoia financeiramente o projeto. Você pode se tornar assinante nas modalidades mensal, semestral e anual nesse link.
Paulicéia extra 👉 11 filmes para ver na 45ª edição da Mostra de Cinema de São Paulo até 03/11 (edição apenas para apoiadores).

Gaía - O que você está fazendo no momento?
Rafael Vilela - Nesse momento estou trabalhando principalmente com veículos internacionais, documentando uma parte importante da história do Brasil. Estou muito focado nas urgências ambientais, mas também na questão urbana no sentido sociais, os movimentos, os anseios, a questão trabalhista. Estou documentando, ao mesmo tempo, a questão dos entregadores de aplicativo, dos Guarani no Jaraguá3, as questões ambientais mais profundas no Mato Grosso e na Amazônia. Tenho tentado olhar para essas coisas de forma concomitante, e isso tem sido publicado principalmente no exterior. Aqui no Brasil tem sido muito difícil trabalhar com jornalismo visual. Tenho trabalhado bastante com a National Geographic Society em projetos de longa duração, e veículos como o Washington Post e o Guardian, em colaboração frequente.

Como você começou a fotografar?
Eu estava no segundo colegial, era uma coisa muito espontânea. Já tinha uma referência forte em casa, porque minha mãe sempre fotografou de forma amadora e meu irmão estudava publicidade, e fotografava também. Estudei em Piracicaba mas nasci em São Paulo, onde fiquei até os sete anos. A questão da fotografia era muito presente na minha casa, que tinha também uma influência muito forte no campo da militância. Meus pais foram fundadores do PT, eram do movimento de saúde pública nos anos 1970 e 80, então eu cresci tendo contato com as questões sociais. Tenho memórias visuais muito fortes de São Paulo, como o Rio Tietê, lembro que olhar para aquilo era uma coisa chocante, o rio completamente destruído, aquele cheiro. E também tenho uma memória visual muito forte dos comícios, dos grandes atos. Isso tudo me marcou muito. Durante o colegial eu ganhei uma câmera digital, que foi onde realmente comecei. Meus primeiros assuntos foram a minha família, viagens de férias. A gente ia muito pra Ilha Grande, Tocantins, interior do Brasil, então tive uma relação próxima com a questão ambiental já desde cedo. Uma das primeiras coberturas que fiz foi a cheia do Rio Piracicaba. Dizem que o amor é racional, a paixão é irracional, mas a fotografia foi uma paixão arrebatadora, entendi que era a forma que me comunicava melhor. Sempre fui muito tímido, e a fotografia acabou virando esse instrumento. Voltei a morar em São Paulo na fundação do Mídia Ninja, em 2011, fui fazer faculdade em Florianópolis, fui estudar design na Federal de Santa Catarina. Estudei design porque já tinha uma noção de fotografia documental, que era uma profissão difícil de sustentar. Aí me conectei ao Fora do Eixo, uma rede que precede o Mídia Ninja, a gente organizou uma série de mobilizações culturais com a fotografia sempre presente. Minha formação mesmo foi mais no movimento estudantil do que na sala de aula, aquilo me conectou com muitos movimentos. O Fora do Eixo me puxou para integrar a rede, que tinha mais de 200 coletivos do Brasil inteiro. Em 2011 eu voltei para São Paulo para morar na Casa Fora do Eixo, numa movimentação do que viria a ser o Mídia Ninja, um desejo de criar uma rede de comunicação independente. A Mídia Ninja foi um laboratório entre 2011 e 2012, até ser lançada em 2013.
Você ficou ligado à Midia Ninja até quando?
Até começo de 2020. Em fevereiro, março, eu estava fazendo algumas pautas, estava em um processo de transição. Pouco antes da pandemia, me lancei no desafio de voltar a estar totalmente focado na produção de conteúdo jornalístico, de documentação visual. Na Mídia Ninja eu fazia isso também, mas eu já tinha acumulado uma série de funções de gestão, de organização. Estive à frente do lançamento do Jornalistas Livres, Design Ativista, vários processos dentro da Casa Fora do Eixo, que me deixaram distante do campo. Em 2020 eu quis focar 100% nisso, seguindo numa parceria com a Mídia Ninja de forma mais pontual. Até hoje eu colaboro, fazemos coisas juntos, mas eu resolvi dar essa busca. O que eu não sabia era que assim que me lançasse nesse desafio começaria a maior pauta das nossas vidas, que é a pandemia. Foi um momento muito intenso. A minha vontade é focar toda a minha energia no jornalismo visual.
Entre o começo do ano passado e agora você publicou principalmente na imprensa gringa?
Sim, até mais do que na Mídia Ninja. Principalmente National Geographic, Washington Post, Guardian. Nas mídias brasileiras, Mídia Ninja e colaborações com outras mídias independentes, como a Ponte. Quando fiz uma matéria sobre Paraisópolis no Washington Post, a Folha pegou a capa do Washington Post e imprimiu a capa na capa da Folha. É uma coisa surreal a incapacidade de investir no jornalismo brasileiro. A intensidade desse momento histórico foi pouco refletida nas capas dos grandes veículos, eles estão completamente debilitados na capacidade de representar a realidade. Não é à toa que as fake News tomaram tanta proporção: o investimento no jornalismo é mínimo. O jornalismo visual, que é uma coisa cara de ser feita, está em um patamar mínimo, com raras exceções. Tenho colegas na Folha, no Estadão que fazem trabalhos incríveis, que é importante ressaltar isso, mas a estrutura do jornalismo comercial e corporativo brasileiro faliu e ninguém falou. Essa é a impressão que eu tenho. É uma falência não declarada. A Folha ganha dinheiro com PagSeguro, tá pouco se lixando pro jornal. O modelo de negócio que essas organizações encontram independe do jornalismo ser feito de uma maneira legal, é uma questão de estrutura que é muito diferente do que a gente vê fora do Brasil. Você vê jornais como o NY Times investindo cada vez mais na parte visual. Tem uma analogia que uma amiga minha me falou: imagina que a crise é no setor dos pastéis, todo mundo ficou pobre. Aí tem uma pastelaria que fala: tá todo mundo pobre então eu vou fazer um pastel com o mínimo de recheio possível, um pastel pequeno, só de massa, e ninguém vai parar de comprar. E o outro pasteleiro fala: pô, tá todo mundo fudido, então vou fazer o melhor pastel do mundo com recheio mais incrível para ninguém parar de comprar. O jornalismo brasileiro em grande medida, e é com tristeza que falo isso, resolveu fazer pastel de vento pra manter a estrutura sem se preocupar com o que tem dentro. E é assim que eu vejo.
Quanto tempo você ficou isolado, fotografando a pandemia em São Paulo?
Fiquei mais ou menos de março, abril até novembro. Fiquei direto num apê, isolado. Eu saía, voltava para casa, ficava sozinho, ia pra rua e voltava. O que não me deixou maluco foi a fotografia, o jornalismo, porque ia pra rua. Por mais medo que eu passasse, por mais desconfortável que fosse, era aquilo que me mantinha. Como exercício psicológico, mental, foi muito intenso. Em novembro comecei um projeto novo com a National Geographic sobre a possibilidade de uma nova pandemia emergir do Brasil. Então fui para o Mato Grosso, passei 45 dias viajando no Pantanal queimado até a fronteira do Pará, fui documentar o sistema alimentar brasileiro, a produção de commodities do Brasil e como isso se relaciona com a emergência de novas doenças. Fiquei esses meses todos em São Paulo documentando cemitérios, na Vila Formosa, fiz um trabalho longo com os coveiros, documentei a história dos Guaranis no Jaraguá e das Presidentas de Paraisópolis (foto abaixo), histórias das consequências do problema, de como uma pandemia afeta as populações mais vulneráveis. Também documentei alguns protestos. Depois disso comecei a refletir que, beleza, estamos documentando a consequência, mas e a causa? Por que isso acontece? Aí passei a construir essa pesquisa, que vai fundo no porque de doenças como essas existirem. O que fez o vírus surgir na China? Como isso se relaciona com o sistema produtivo brasileiro? A cadeia produtiva de alimentos de grãos, a perda de biodiversidade no solo tem uma grande correlação com a emergência de novas doenças. Fui para o Mato Grosso investigar a origem dessa história, a partir de uma perspectiva brasileira. Andei mais de 7.000 km com a minha irmã, que é bióloga, ficamos quinze dias acampados numa fazenda de soja, depois outros quinze dias numa aldeia Kayapó. É uma investigação visual que ainda não foi publicada.

Você acha que vai ter Carnaval em São Paulo ano que vem? O que você acha que vai acontecer em 2022?
O Carnaval é incontrolável. Ninguém, nenhuma instituição, pessoa ou consciência controla o Carnaval de 2022. A não ser que apareça uma nova variante com consequência drástica, e espero que isso não aconteça. Acho que o carnaval de 2022 vai ser um surto epifânico no Brasil inteiro, e em São Paulo com certeza será muito forte. Dá pra sentir conversando com as pessoas, tem muita coisa represada, acho que é inevitável que desague no Carnaval. Mesmo que alguém queira segurar, mesmo que a consciência de um campo progressista entenda que não dá para fazer, acho que é incontrolável. Já está acontecendo, os bares estão lotados, não tem como achar que vai retroceder. A gente sabe que ainda está morrendo muita gente por dia4, mas isso virou uma coisa assim tão banalizada. Em um país onde se morre por qualquer coisa, como o Brasil, isso é uma questão também. A classe média não morre por qualquer coisa, mas as periferias, sim. Acompanho muito de perto Paraisópolis, outros bairros, e ali, infelizmente a vida nunca parou, nunca pôde parar, o coronavírus passava a ser um risco a mais na vida, junto de outros riscos. É difícil pensar que vai ser diferente.
Quais foram as outras questões da pandemia que te chamaram a atenção nesse período que você cobriu a cidade?
Os entregadores de aplicativo. A uberização já era um tema que eu estava mapeando, pensando que era importante porque é um fenômeno novo a plataformização do trabalho. Para mim foi muito intensa a documentação do breque dos apps, a primeira greve dos entregadores, e a relação cotidiana com esses trabalhadores. Foi muito emocionante poder conhecer mais as pessoas, ouvir as histórias deles. O Galo5 foi uma pessoa que eu fiquei muito próximo nesse período e comecei a entender um pouco mais a realidade desse trabalho, que sempre existiu. É o que eles falam: a pizza sempre chegou quente na sua casa, a questão é que agora ela tá mediada por um aplicativo que precariza mais ainda essa relação e a desumaniza completamente. Pra mim esse foi um tema muito marcante. Em 2018, em São Paulo, por exemplo, morreram no trânsito 338, 339 motoboys: mais de um motoboy morto por dia. Isso antes da pandemia. A pandemia tornou essas pessoas responsáveis por lidar com o vírus para que os outros possam ficar em casa. Foi uma pauta que mexeu muito com a percepção da classe média sobre ela mesma, sobre seus privilégios. Ficou muito evidente: quem podia ficar em casa e quem tinha que trabalhar para os outros ficarem em casa.

Você continua acompanhando? Porque não mudou grandes coisas a situação dos entregadores de lá para cá.
Continuo acompanhando. Eu diria até que está pior. Não estou fotografando nesse momento, mas tenho essa perspectiva de médio prazo. Tá cada vez pior, a gasolina subindo, o custo de vida subindo, isso faz com que um contingente ainda maior de pessoas se coloque à disposição desses aplicativos, sob qualquer circunstância que seja oferecida. Essa é a grande questão. Parafraseando o Galo de novo, uma coisa muito importante: o business dessas empresas nunca foi comida, sempre foi exploração. Você tem uma mão de obra excedente desempregada e sem perspectiva, e você coloca uma condição de trabalho completamente desumana para essas pessoas e elas têm que aceitar, porque não resta opção. O que a gente tá vivendo agora é uma possível grande recessão econômica, que faz com que esse processo só se intensifique. Mas tem luz no fim do túnel. Em Nova Yorque estão aprovando uma legislação de alguns direitos mínimos para entregadores6. Essa é a única maneira possível, que eu vejo, de uma política pública de cuidado, de valorização desses profissionais.
A pandemia piorou demais a questão das pessoas desabrigadas, a crise humanitária em São Paulo. Essa crise específica da moradia fez parte dos seus registros também?
Fez. Mais até que a da moradia, que é uma consequência da crise econômica, a fome. Eu comecei a documentar a fome bem no começo, o crescimento das filas, fiz uma reportagem chamada "As Filas da Fome", assim que elas começaram a eclodir. Fiz bastante coisa no Lar de São Francisco, acompanhei o trabalho dos franciscanos na distribuição de marmitas. Também deu para perceber que parte do que era uma classe média baixa também entrou nessas filas da fome, com o desemprego, para além das pessoas que já moravam na rua. Muita gente foi pra rua porque perdeu a capacidade de pagar aluguel, e ocupou o Centro e terrenos. A última matéria que eu fiz pro Washington Post esse ano chamava "A Eclosão das Cidades de Barraco no Brasil". A gente mostrou como os terrenos começaram a ser ocupados porque as pessoas não conseguem mais pagar aluguel. Teve todo esse fenômeno imobiliário e a fome como consequência mais drástica, que começou no Centro e ficou muito visível em toda a cidade ao longo desses meses.
Quais são suas outras pautas durante a pandemia em São Paulo?
Fiz quatro personagens que considero que foram invisibilizados na crise. Primeiro foram as Presidentas de Rua de Paraisópolis. Em Paraisópolis se organizou um sistema de gestão da crise, na ausência do Estado, em que mulheres negras eram as grandes protagonistas, elas eram eleitas presidentes para cuidar das suas próprias ruas, cada uma cuidava de 50 famílias, dando manutenção nas compras, para não ter que sair de casa, mapeando quem tinha Covid, quem precisava de ambulância. Elas contrataram ambulâncias comunitárias para servir à comunidade, porque o Estado não entrava na Paraisópolis. Então teve todo esse trabalho da associação de moradores lá e que fez eclodir essa figura das presidentas de rua. Outros personagens que acompanhei por um período foram os coveiros, da Vila Formosa, talvez um dos lugares com maior visibilidade internacional durante a pandemia no Brasil. Aquelas imagens aéreas, mostrando os túmulos. Eu fui lá em algum momento para conhecer e entendi que a grande história ali era, na verdade, os coveiros. Eles já viviam uma crise muito grande por serem coveiros num lugar onde vidas periféricas são enterradas, onde a vida vale muito menos. É um trabalho muito insalubre há muito tempo, mas que a pandemia intensificou absurdamente, com risco de contágio e tudo mais. Eu fiquei alguns meses com os coveiros, acompanhando o trabalho deles. Antes de ir pro Mato Grosso, a história a que me dediquei mais foi a que eu já tava documentando antes da pandemia, os Guaranis, no Jaraguá. Também ali eu tive uma conexão para além da cidade, vendo como uma população muito vulnerabilizada resistia à pandemia. Mais do que resistindo à pandemia, resistindo a 500 anos de tentativa de extermínio e apagamento.

A conversa com o Rafael Vilela continua na próxima edição 👉 assine para receber.
O Paulicéia é de longe a coisa que eu mais gosto de fazer. Meio clichê dizer isso, mas me traz uma sensação de que “ah, tudo que eu fiz até hoje foi pra isso". Por ser um projeto independente (apoiado pelo edital do Substack no primeiro ano de vida), tenho liberdade total para experimentar, errar, começar de novo. Isso já seria motivo de celebração suficiente, mas tem mais: o projeto tem me levado a conhecer e conversar com pessoas que talvez de outra forma eu não conheceria (como o Thiago Vinícius, da Agência Popular Solano Trindade), ou que eu já conheço há tempos mas pude conhecer melhor (como a Dani e a Cássia da Sede261). Mas tem muito mais, porque as mudanças dessa virada de trimestre não são só estruturais (quem lê semanalmente provavelmente notou uma melhora visual), mas também de tom: como a reabertura da cidade é real, a pergunta “o que será depois?” vem dando lugar a “como essas pessoas se relacionam com essa cidade?". Aguardem entrevistas muito (muito!) legais nas próximas edições.
Continuamos a conversa com o fotógrafo Rafael Vilela sobre seu trabalho de reportagem fotográfica com os povos indígenas do Brasil.









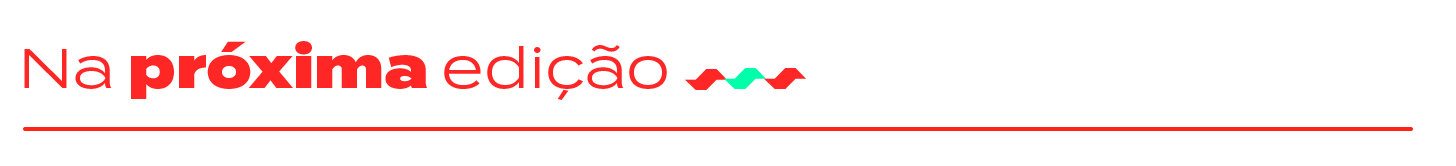

GRANDE PIRA!! que entrevista potente, Gaía, parabéns demais! o Pauliceia está documentando e discutindo mudanças no calor da hora com muita responsabilidade e bom conteúdo. nenhuma entrevista é mais do mesmo. parabéns MESMO!